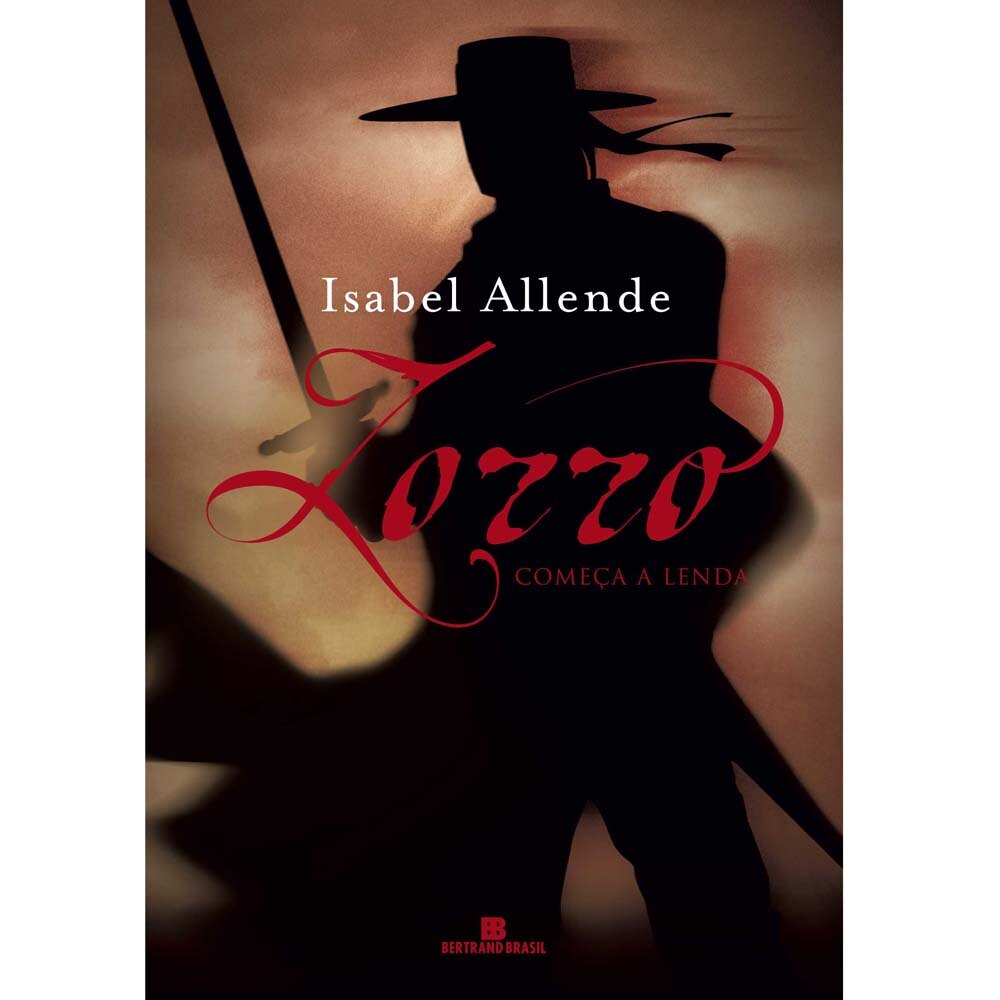por Ciça Silveira*
Dos
muitos filmes a que assisti, chama a minha atenção uma das últimas
cenas do filme “O sexto sentido” (1999) em que o menino Cole
relata para a mãe que sua avó falecida se orgulha da filha todos os
dias.
Se
prestarmos atenção, tal cena irá variar em muitos filmes, mas
sempre com a mesma questão: se nossos pais se orgulham de quem nos
transformamos ainda que não tenhamos realizado o que sonharam para
nós.
Levaremos
no peito essa dúvida e dor atroz, principalmente se na força e
coragem de nosso caminho singular tivermos a certeza de que trilhamos
o contrário do que nossos pais sonharam.
Levaremos
a dúvida eterna: "será que conseguem me amar, apesar de tanta
diferença?".
Creio
que amar o diferente é doloroso para os dois lados: o orgulho
daqueles que não abrem mão do que desejavam para o filho, julgando
ser o melhor para este, e do outro lado, o filho que não perdoa o
julgamento daqueles cujo maior papel seria o de acolher e de apoiar.
Essas
intolerâncias criam abismos, julgamentos cruéis, dores emocionais
desnecessárias, desabonos de condutas, palavras ásperas, competição
sem sentido, desprezo e, finalmente, indiferença.
É
triste para ambos os lados a indiferença.
Entretanto,
observo que, quando o amor não fala mais alto que o orgulho e a
razão, passamos anos esperando por um abraço de reconciliação,
pela frase que acolhe e confirma o quanto (e se) somos amados, e que,
seja como for, nossos pais se orgulham de nós por existirmos e por
existirmos do nosso jeito: do jeito que nascemos para ser, do jeito
que desejamos ser.
Que
possamos enxergar nossos filhos como seres humanos diferentes de nós,
com expectativas próprias e que possamos apoiá-los em suas
decisões.
Que
tenhamos a chance de ouvir que somos amados pelos nossos pais e de
saber que nossas qualidades são vistas, admiradas e apreciadas.
O
acolhimento na alma será libertação imediata para a leveza do amor
familiar.
Ciça Silveira é graduanda em Psicologia.